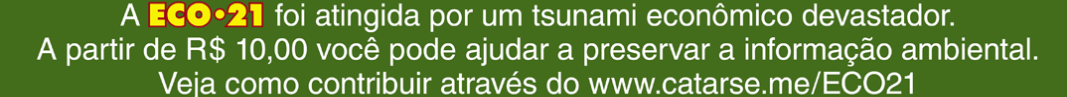Virgílio Azevedo | Jornalista do Jornal Expresso
A entrevista foi feita por Kimberly White, jornalista e editora da agência norte-americana de notícias do ambiente e do desenvolvimento sustentável The Planetary Press
O Diretor do Centro de Direito Ambiental da Nova Zelândia, na Universidade de Auckland, Klaus Bosselmann, sublinha ao Expresso que não se pode “confiar apenas no Acordo de Paris e nas negociações em curso na ONU, porque o clima exige um estatuto legal de Património Comum da Humanidade no direito internacional em vez do atual conceito de preocupação comum, que não deu nenhum resultado”.
O investigador alemão Klaus Bosselmann é também professor de Direito Ambiental, dirigente da Comissão Mundial de Direito Ambiental da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN) e co-Presidente da Comissão Científica da Casa Comum da Humanidade. Já publicou 30 livros e recebeu inúmeros prémios pelo seu trabalho pioneiro em Direito Ecológico e Jurisprudência da Terra.
Desde Setembro do ano passado, a Casa Comum da Humanidade (CCH), organização global com sede em Portugal, na Universidade do Porto, está realizando uma campanha de divulgação internacional da sua iniciativa “Um Sistema Terrestre, um Património Comum, um Pacto Global”, em parceria coma a agência de notícias The Planetary Press. A campanha conta com uma série de entrevistas a personalidades de projeção internacional feitas por esta agência, gravadas em podcast e transcritas em inglês, português e espanhol: as “Conversas da Casa Comum ONU75” As primeiras 14 entrevistas são acompanhadas de vídeos com animações sobre as propostas da CCH.
O Expresso publicou todas as quartas-feiras uma entrevista e um vídeo associado enquanto durar a campanha, que também está nas redes sociais e através de newsletters. Pode ver as dez primeiras entrevistas e vídeos em: Will Steffen, Maria Fernanda Espinosa, Izabella Teixeira, Paulo Magalhães, Karl Burkart, Janene Yazzie, Kim Sang-Hyup, Hindou Ibrahim, Prue Taylor e Richard Ponzio. Se pode ouvir a entrevista completa, em inglês, a Klaus Bosselmann AQUI.
A CCH propõe o reconhecimento do Sistema Terrestre como Património Comum da Humanidade, para restaurar um clima estável, criar um novo modelo de governança para os recursos naturais comuns do Planeta e promover um novo Pacto Global para o Ambiente junto à ONU, que acabe com o atual impasse nas negociações climáticas. Para concretizar este objetivo, a CCH está organizando uma coligação global de conhecidos cientistas do Sistema Terrestre e da sustentabilidade, juristas, economistas, sociólogos, Estados soberanos, ONG, organizações internacionais, autoridades e comunidades locais, povos indígenas e universidades.
A Casa Comum da Humanidade tem como fundadores sete universidades portuguesas, a ZERO – Associação Sistema Terrestre Sustentável, o Ministério do Ambiente e Ação Climática, as Câmaras Municipais do Porto e de Gaia e especialistas de todo o Mundo. E tem também uma série de parceiros além da The Planetary Press, como o Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA, Madrid), a rede The Planetary Accounting Network, a Global Voice ou a Earth Trusteeship Initiative.
O senhor é diretor do Centro de Direito Ambiental da Nova Zelândia (NZCEL) desde a sua criação em 1999. Quais são os seus principais objetivos?
O NZCEL é um Instituto interdisciplinar que envolve cientistas, incluindo cientistas políticos, sociólogos e advogados, com o objetivo de fazer da sustentabilidade uma realidade no sistema jurídico. Essencialmente estamos encontrando formas práticas de desenvolver a sustentabilidade em vários níveis da legislação, tanto em nível nacional como internacional. E acho que conseguimos fazê-lo com bastante sucesso.
Pode nos dar um exemplo?
Sim. A Nova Zelândia foi o primeiro país do Mundo a incorporar em 1991 o conceito de sustentabilidade na sua Lei Ambiental, a chamada Lei de Gestão de Recursos Naturais, que permite quaisquer tipos de atividades dentro da sociedade e do sistema económico, desde que a integridade fundamental dos sistemas ecológicos não seja afetada. E isto é uma maneira muito feliz de definir o que realmente significa a sustentabilidade: o dever dos Estados de protegerem e preservarem a integridade dos sistemas ecológicos da Terra. A sustentabilidade foi pela primeira vez adotada na Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento de 1992. Desde então temos trabalhado nesta área em nível internacional, com a criação da Academia de Direito Ambiental da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN), que é a organização “guarda-chuva” global para os estudiosos do direito ambiental e centros de investigação em todo o Mundo. Queremos transformar o atual sistema bastante fragmentado da legislação ambiental.
É também co-presidente da Comissão Científica da Casa Comum da Humanidade (CCH), e uma das principais inovações que o CCH trouxe para discussão pública e académica foi a conceptualização de um bem comum global sem fronteiras: o Sistema Terrestre. Sendo professor e especialista em Direito Internacional do Ambiente, como vê esta solução jurídica concreta, que vai para além das declarações de soft law?
Estamos familiarizados com os bens comuns globais no plural, reconhecendo áreas fora das jurisdições nacionais como os oceanos, a Antártida, a atmosfera. A noção de bens comuns globais inclui certo nível de dever moral em termos de gestão ou tutela. Por isso podem ser desenvolvidos progressivamente no Direito Internacional. Mas quando se trata bem global comum sem fronteiras no singular, este é o verdadeiro desafio para o atual sistema jurídico internacional. É o reflexo da Terra como uma realidade física global. A coisa mais próxima que os advogados tendem a aceitar como uma descrição desta realidade é o conceito de Condomínio da Terra.
Como define este conceito?
É a ideia de que os Estados soberanos possuem pequenos “departamentos” num enorme condomínio que todos partilham, a Terra, tal como num condomínio residencial, em que alugamos ou compramos um departamento e também temos a responsabilidade de cuidar todo o edifício onde este se localiza, em especial as partes comuns aos vários moradores. O mesmo poderia acontecer entre Estados soberanos, componentes de um sistema complexo – o nosso Planeta – onde teriam responsabilidades partilhadas em relação a um bem comum global, a Terra.
O que significa exatamente isso em termos da história do Direito Internacional?
O cerne da questão é que hoje o Direito Internacional define apenas as relações entre 189 Estados soberanos, na suposição de que, de alguma forma, eles podem resolver todos os assuntos através das Leis internacionais existentes. Mas este conceito nasceu com o Tratado de Paz de Vestfália de 1648, tendo como principal objetivo fazer com que os Estados da Europa reconheçam a soberania de cada um e se respeitassem mutuamente, de modo a que os cidadãos de um determinado país pudessem ser protegidos pelo seu próprio governo sem temerem ser atacados por pessoas de um país vizinho. Assim, historicamente, o conceito de soberania do Estado destinava-se a proporcionar uma certa ordem internacional de paz.
De que maneira funciona esta ordem, numa situação em que os Estados soberanos descobrem um problema que não pode ser resolvido com o conceito de Estado soberano puro?
É aí que surgem as dificuldades. Todos nós partilhamos o ambiente global, o Sistema Terrestre, que não conhece quaisquer fronteiras nacionais. E a ideia de soberania do Estado não foi inventada para isso. É o que hoje se chama paradoxo da soberania, uma situação em que uma construção legal está largamente desatualizada porque não pode assumir, por inerência, responsabilidades compartilhadas no ambiente global, que dependem do funcionamento dos sistemas ecológicos, incluindo as alterações climáticas. Portanto, este tipo de dicotomia entre um conceito bastante restritivo e absoluto de Estado soberano, que não conhece um dever inerente de proteção do ambiente global, por um lado, e a realidade física de uma Terra partilhada, por outro, é o cerne da questão. Mas nos últimos 70 anos, pelo menos, temos o fenómeno dos Direitos Humanos na legislação internacional. E desde então há uma discussão política e legal crescente, que diz que um Estado soberano não tem qualquer tipo de jurisdição quanto à limitação dos Direitos Humanos universais e dos seus princípios. Este é um exemplo do que hoje podemos dizer: qualquer Estado pode fazer o que lhe apetecer, exceto ameaçar de alguma forma os direitos fundamentais dos seres humanos, nomeadamente a liberdade. Esta parece ser a essência atual de jurisprudência internacional.
E o desafio de expandir este conceito para o Sistema Terrestre?
Aqui precisamos entender que o bem-estar do ser humano depende também da proteção do ambiente natural, e soma-las às preocupações em matéria de Direitos Humanos. E isto é jurisprudência. Estamos em tempo de pandemia, em que os Estados soberanos estão cada vez mais atuando em termos nacionais em vez de cooperarem. E ainda assim, a pandemia seria o exemplo perfeito de porquê de estarmos falhando: devido a uma falta de cooperação e de compreensão de como é fundamental que os Estados soberanos assumam a sua responsabilidade na proteção da vida selvagem. Por outro lado, os Estados tendem a agir muito rapidamente quando se trata da percepção de que a saúde pública é atingida, de que há pessoas a morrer. Mas este tipo de urgência não se vê nas mudanças climáticas, onde também há pessoas morrendo em todo o Mundo e a situação está piorando.
Precisamos de uma evolução conceptual do direito para melhorar a sua capacidade de explicar e representar a nossa interligação e interdependência com o Sistema Terrestre?
Sem dúvida. Estou bastante otimista. Em relação ao Sistema Terrestre, isto é, como podemos adotar cada vez mais a ideia de este ser um Património Comum da Humanidade, há questões fundamentais a considerar. Uma é a chamada soft law, a criação de Acordos entre Estados em que estes declaram certos pontos em comum e responsabilidades compartilhadas. O exemplo mais famoso é a Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento de 1992. O Princípio 7 do documento, por exemplo, fala sobre as obrigações de os Estados cooperarem a fim de protegerem a integridade do sistema ecológico da Terra, ou seja, tivemos o reconhecimento do Sistema Terrestre já em 1992. E esta obrigação dos Estados é definida como uma obrigação legalmente aplicável. Este conceito de soft law foi repetido em cerca de 25 Acordos internacionais entre Estados.
E há outras questões a considerar?
Sim, aquilo a que chamamos hard law, ter uma Convenção ou um Tratado Internacional vinculativo que articule particularmente aqueles conceitos. Há uma evolução no sentido da criação do Pacto Global para o Ambiente, que potencialmente poderia ter este reconhecimento de uma obrigação dos Estados, mas isso ainda não acontece nos documentos atuais em discussão. O processo que poderia conduzir a esse resultado ainda está em construção. Depois há outro passo ainda mais importante: a adoção de princípios gerais no Direito Internacional, tal como hoje já acontece com os Direitos Humanos, onde todos estamos familiarizados com a sua importância, aceitação universal e responsabilidade legal partilhada. Assim, poderíamos expandir este conceito para incluir também a obrigação de proteger as condições físicas em que os seres humanos são capazes de viver e, portanto, incluir uma referência ao ambiente. E, tal como acontece com os Direitos Humanos, existir esta obrigação independentemente de quaisquer tratados específicos que os Estados possam ou não ter assinado.
Um clima estável é uma manifestação de um Sistema Terrestre que funciona bem. No entanto, o clima é considerado pela ONU apenas uma preocupação comum da Humanidade, um conceito vago que não existe no Direito Internacional. Será este o momento para reabrir a discussão em torno do estatuto legal do clima, e recuperar a proposta de Malta de 1988 de aplicar o regime jurídico do Património Comum da Humanidade a um clima estável no Sistema Terrestre como um todo?
A proposta do embaixador de Malta em 1988, surgiu praticamente na altura em que comecei a me envolver na legislação sobre mudanças climáticas, como membro da equipe de negociação da Alemanha na Convenção-Quadro da ONU sobre as Mudanças Climáticas. E havia duas propostas fundamentais: considerar as mudanças climáticas como uma preocupação comum da Humanidade, ou considerar o clima como Património Comum da Humanidade, posição defendida por Malta e outros Estados. Hoje, a diferença entre estes dois conceitos ainda é controversa. Naquela época, a noção de preocupação comum foi consagrada como sendo mais rigorosa, ou seja, se estivermos preocupados com qualquer coisa, estamos empenhados em certas ações.
Qual é a sua posição?
Eu defendo o argumento contrário, de que considerar o clima como Património Comum da Humanidade é mais rigoroso. É curioso que historicamente, a teologia católica considerava a Terra como um património. A Terra tinha sido dada por Deus aos seres humanos, que a podiam desfrutar, mas nunca destruir, porque tinham a obrigação fundamental de proteger e transmitir este património às gerações futuras. Existe, de fato, uma necessidade de ser mais claro sobre a noção de património comum como conceito para descrever um clima estável e, por associação, um Sistema Terrestre estável. O modelo de património comum é popular não só na literatura, mas também no Direito Internacional. E, ainda que de uma forma muito rudimentar, foi também o Embaixador de Malta, Arvid Pardo, a fazer um famoso discurso na Assembleia-Geral da ONU em 1967, onde defendeu o reconhecimento de todos os oceanos como Património Comum da Humanidade, argumentando com veemência que precisamos de cuidar bem da Terra como um todo. Arvid Pardo foi considerado o pai dos oceanos e a mãe dos oceanos, a investigadora alemã Elisabeth Mann Borgese, era igualmente uma defensora dos princípios do património comum no mar. Foi assim que este conceito entrou no processo de tomada de decisões a nível internacional, culminando com a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, que não reconheceu o alto mar como património comum, mas apenas o fundo do oceano, o que não era obviamente suficiente para enfrentar as complexidades das mudanças climáticas.
Mas constitui uma referência histórica?
Sim, é um bom exemplo do que se entende por património comum no que diz respeito ao Sistema Terrestre. Significa em termos jurídicos que, para beneficiarmos deste património, precisamos ter mecanismos de proteção concretos. Porque os oceanos, a atmosfera, o clima ou o Sistema Terrestre como um todo não pertencem a ninguém, não estão sujeitos por definição a nenhuma forma de propriedade, são de livre acesso para todos.
Então, quem está encarregado de protegê-los?
No que diz respeito a um clima estável de qual precisamos desesperadamente, não podemos confiar apenas no Acordo de Paris de 2015 e nas negociações em curso na ONU, porque tem de haver um entendimento fundamental de que o clima como um todo exige um estatuto legal de património comum em vez de simples preocupação comum, que é demasiado fraca e não deu nenhum resultado. Hoje há um forte suporte filosófico e jurídico para a noção de património comum intangível como uma das ideias mais poderosas que requerem responsabilidades partilhadas por todos. Portanto, esperemos que o debate, durante o tempo da pandemia da Covid-19 e da pós-pandemia, se concentre cada vez mais no clima como um todo e não no Acordo de Paris e nas negociações da ONU.