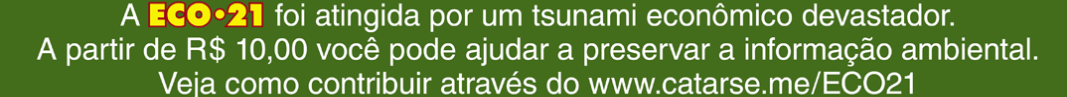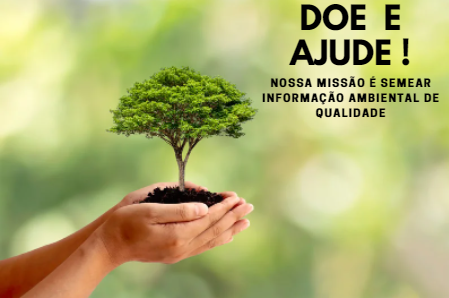Planejar o oceano para garantir vida, justiça social e futuro econômico
por Elisa Homem de Mello e Rudá Capriles
O Brasil está, pela primeira vez, planejando o mar como nunca fez codem o território em terra firme. Com o Decreto nº 12.491/2025, o Planejamento Espacial Marinho (PEM) deixa de ser promessa e passa a ser política de Estado, alinhada à Década da Ciência Oceânica da ONU (2021–2030) e ao compromisso assumido pelo país nas Conferências das Nações Unidas para o Oceano.
Mais do que um instrumento técnico, o PEM é um espelho: mostra como o Brasil enxerga sua Amazônia Azul – mais de 5,7 milhões de km² de mar sob jurisdição nacional – e que tipo de relação deseja construir com esse território. A questão central é simples e radical ao mesmo tempo: vamos repetir, no oceano, a lógica de devastação aplicada ao solo, ou aprender a coexistir com ele?
Amazônia Azul: potência econômica e vulnerabilidade
A chamada economia do mar já responde por quase 20% do PIB brasileiro, cerca de R$ 2 trilhões por ano. Dela dependem setores estratégicos como:
- extração de petróleo e gás (95% da produção nacional);
- transporte marítimo (que escoa mais de 95% do comércio exterior);
- pesca, turismo, lazer e serviços portuários;
- indústria de base e logística de exportação do agronegócio.
No Sudeste, essa relevância é ainda mais evidente. O Rio de Janeiro concentra cerca de 63% da economia azul do país, com R$ 240 bilhões movimentados e 300 mil empregos formais, fortemente ancorados em petróleo e gás. Em São Paulo, a economia marinha também se apoia na extração de hidrocarbonetos e na infraestrutura portuária, ao mesmo tempo em que subaproveita o enorme potencial do turismo costeiro.
Esse modelo gera riqueza, mas expõe vulnerabilidades: dependência de combustíveis fósseis, concentração setorial, conflitos de uso no litoral e pressões crescentes sobre ecossistemas e comunidades tradicionais. A expansão do crime organizado sobre portos estratégicos — como Santos, Itaguaí e outras zonas costeiras — adiciona um componente dramático: rotas internacionais de drogas, territórios sob disputa, insegurança para moradores, pescadores e turistas, além de impactos diretos sobre a cultura caiçara e sobre a percepção de segurança da população.
Planejar o mar, portanto, não é um luxo tecnocrático: é condição para garantir segurança econômica, social e ambiental num cenário de mudanças climáticas e reorganização geopolítica.
PEM: do mapa técnico ao pacto social
Segundo a definição da UNESCO, o Planejamento Espacial Marinho é um “processo público de distribuição espacial e temporal de atividades humanas em áreas marinhas, para alcançar objetivos ecológicos, econômicos e sociais”. No Brasil, porém, esse conceito ganha contornos próprios: diversidade biológica, enorme faixa costeira, alta desigualdade social e uma história de exclusão de povos tradicionais das decisões sobre seus territórios.
Por isso, uma das marcas mais fortes do PEM brasileiro é a tentativa de romper com a lógica de planejamento “de cima para baixo”. Marinha do Brasil (via CIRM), Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), academia, setor produtivo, bancos de desenvolvimento, organizações da sociedade civil, comunidades tradicionais, pescadores e lideranças caiçaras foram chamados às mesas de debate nos lançamentos do PEM Sudeste, no Rio de Janeiro e em São Paulo.
Em meio a painéis técnicos, dados, mapas e projeções econômicas, algumas falas lembraram que o mar não é um cenário a ser explorado, mas um território vivo, com gente dentro. A pesquisadora e caiçara Paula Callegario de Souza sintetizou essa visão ao afirmar que “falar de território saudável é falar de saúde — da nossa, das comunidades e do planeta”.
O PEM, nessa perspectiva, deixa de ser apenas um instrumento de gestão e torna-se também um projeto ético:
- ele só será legítimo se construído com as pessoas, e não sobre elas;
- precisa considerar a saúde física, mental e cultural de quem vive do e no mar;
- deve garantir consulta e participação, em linha com a Convenção 169 da OIT;
- precisa evitar que o termo “economia azul” seja apenas uma roupagem nova para velhas formas de exclusão.

Justiça social, licenciamento e o lado invisível da economia azul
Se por um lado o PEM organiza usos, por outro ele escancara conflitos. Nas falas de pescadores e lideranças comunitárias, emergem temas que não costumam ocupar o centro das apresentações técnicas:
- licenciamento e pós-licenciamento ambiental que ignoram impactos acumulados;
- descomissionamento de plataformas, dutos e instalações submarinas que nunca acontece de fato, deixando sucata e passivos ambientais no fundo do mar;
- responsabilidades difusas quando campos de petróleo são repassados a empresas menores ao final da vida útil;
- expansão acelerada de energias offshore (como eólicas) sem estudos suficientes sobre ruído, rotas migratórias e pesca artesanal.
“Fotografia não traz barulho, nem cheiro”, lembrou um dos representantes da pesca ao falar sobre a distância entre o que se mede e o que se vive. O atual sistema de licenciamento ainda opera sob a lógica da urgência econômica, e não da precaução ecológica — e quem paga a conta são os povos da costa: caiçaras, marisqueiras, pescadores artesanais, comunidades extrativistas.
O PEM pode mudar esse quadro se incorporar, de fato, temas como:
- ordenamento do tráfego marítimo;
- mineração submarina e seus riscos;
- impactos da transição energética em comunidades tradicionais;
- fortalecimento da fiscalização e do descomissionamento como obrigação inegociável.
Sem isso, continuará pairando a sensação de que a “economia azul sustentável” beneficia poucos, enquanto os custos ambientais e sociais ficam com quem vive no litoral.

Finanças, inovação e soberania: quem paga a virada de chave?
Um dos pontos mais sensíveis do debate é o financiamento. Sem recursos, o PEM corre o risco de ser um belo diagnóstico sem força transformadora. Secretarias estaduais e municipais, como a de Energia e Economia do Mar no Rio de Janeiro, insistem que é preciso “trazer o financiamento na ponta da língua” e fazer o dinheiro chegar até onde a vida acontece: os municípios costeiros.
Algumas iniciativas despontam como sinais de mudança:
- mecanismos de indução como “Selo Azul” e “ICMS Azul”, condicionando benefícios à boa gestão costeira;
- fundos internacionais para finanças azuis, como carteiras ProBlue/BIRD e iniciativas da UNEP/FI;
- criação do BNDES Azul, com foco em restauração de recifes, manguezais, turismo sustentável e segurança econômica de longo prazo.
Ao mesmo tempo, o setor industrial — especialmente no Sudeste — enfrenta o desafio da descarbonização e da transição energética. Pólos petroquímicos, indústria de base, agronegócio e logística dependem intensamente de energia, água e transporte. Reduzir emissões, migrar para fontes limpas e modernizar a infraestrutura logística são passos obrigatórios, porém custosos.
O PEM se apresenta, então, como elo possível entre crescimento e sustentabilidade: ao dar segurança jurídica, reduzir conflitos e orientar o uso do mar, pode atrair investimentos que combinem inovação tecnológica, responsabilidade social e conservação de ecossistemas. Robótica subaquática, sensoriamento remoto, inteligência artificial aplicada ao monitoramento, biotecnologia marinha e turismo de baixo impacto são alguns dos campos em que essa convergência pode se materializar.
Planejar o mar, nesse contexto, é também um ato de soberania: conhecer, proteger e usar com responsabilidade o patrimônio marítimo brasileiro, garantindo que a Amazônia Azul não seja apenas uma expressão bonita em discursos oficiais, mas uma estratégia concreta de futuro.
O PEM como gesto civilizatório
Ao final, o Planejamento Espacial Marinho se impõe como algo maior do que um plano setorial. Ele:
- integra ciência, política, economia e cultura costeira;
- obriga o país a olhar para conflitos que antes eram empurrados para “baixo do tapete” do mar;
- convida a ouvir quem sempre esteve na linha de frente — pescadores, caiçaras, comunidades tradicionais;
- traz o oceano para o centro da agenda climática e de desenvolvimento.
O Brasil tem hoje diante de si uma escolha rara: repetir no mar o roteiro de exaustão aplicado ao solo ou experimentar um novo caminho, no qual planejar significa, antes de tudo, cuidar. O PEM pode ser a ferramenta que inverte a lógica da exploração, trocando o verbo “extrair” por “coexistir”.
Se for conduzido com transparência, participação real e compromisso com a justiça social, o PEM se tornará um teste de maturidade nacional bem-sucedido — a prova de que o país é capaz de habitar o planeta sem destruí-lo. Se ficar restrito a poucas mesas técnicas, sem escuta e sem fiscalização, será mais um documento elegante em um oceano de oportunidades perdidas.
O retrato que começa a se desenhar, porém, é promissor: auditórios cheios, articulação entre Marinha, governo, academia, setor produtivo e sociedade civil, reconhecimento público da importância do conhecimento tradicional e da urgência climática.
O Brasil, enfim, começou a planejar o mar não para conquistá-lo, mas para compreendê-lo. E talvez seja justamente no oceano que o país aprenda, por fim, a arte da permanência: usar sem esgotar, desenvolver sem expulsar, existir em parceria com a Terra — e não contra ela.